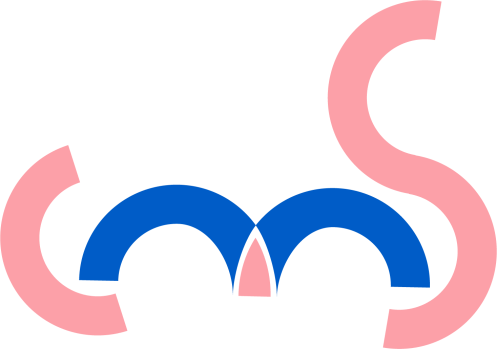…
Ytalo Silva Cantanhede é graduando do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estagiário de redação na Delegacia Federal em Recife. Seu interesse pela pesquisa começou logo nos primeiros períodos da graduação. Hoje, a continuidade das suas investigações sobre mídia e processos sociais no jornalismo é um dos principais objetivos na universidade. Diretamente de Recife-PE, ele bate um papo com a gente sobre o newsmaking, suas experiências etnográficas mais recentes na redação jornalística, neutralidade no jornalismo e planos futuros.
…
1. Ytalo, desde a escolha do curso de Jornalismo na UFPE até chegar às suas pesquisas atuais na graduação, como foi o percurso? Conte um pouco sobre o seu interesse pela pesquisa e pelo tema da produção jornalística.
Antes mesmo de entrar na graduação, eu sempre quis cursar Jornalismo. Eu pensava também em Letras, porque eu curto bastante essa área da docência e licenciatura. Mas em relação a eu escolher o Jornalismo, eu sempre gostei muito de ler. Pode até parecer um clichê, porque todo mundo na universidade fala “eu sempre gostei muito de ler, por isso esse [curso] foi minha primeira opção”, mas realmente foi por isso: a leitura e as histórias. Não tinha surgido a ideia da pesquisa antes, ela foi na universidade mesmo, a partir do primeiro período.
Bom, eu estudei para o Enem e escolhi o jornalismo, o que eu queria cursar. Quando foi no primeiro período, a gente tinha a cadeira Metodologia do Estudo. Era uma cadeira bem introdutória de pesquisa. Lembro até o nome do professor, Lourival. Ele incentivava a gente, e todo o final da aula ele dizia: “Olha, eu sou pesquisador, mas também gosto de ler uns poemas. Eu vou ler um poema aqui. Ei, você fulaninho, venha cá ler um poema!”. Era para quebrar essa carga, porque o senso comum tem uma visão de que a pesquisa é um bicho de sete cabeças, e não é nada disso. Se você se interessar por uma área e começar a pesquisar e escolher o tema, com a proximidade que tem, percebe que é algo até prazeroso e de um aprendizado muito grande.
O meu interesse mesmo com a pesquisa já tinha começado daí, só que aumentou mais ainda no terceiro período. Meus amigos morrem de preguiça de fazer os trabalhos deles, como resenha crítica e alguns artigos. Eles diziam “Ah, você vai ser um acadêmico”, porque eles gostam de jornalismo esportivo, inclusive tem o grupinho do jornalismo esportivo, e tem aquele que vai ser o professor, o pesquisador. Eu fui nessa onda, eu gostava realmente de pesquisa, e claramente eu estava me identificando com isso. Eu disse que quero continuar pesquisando com as orientações que eu tive com essas duas professoras: Cristina [Teixeira Vieira de Melo], em Método de Pesquisa em Comunicação I; e Sofia Zanforlin, que inclusive é orientadora deste trabalho. A gente conversava muito e ela sempre dizia “Veja se é essa área aqui que você quer adentrar no jornalismo. O que você quer?”. Moral da história: eu escolhi o newsmaking – até por sugestão dela – e as manifestações jornalísticas. Nas nossas conversas, ela dizia assim: “Você quer pensar as rotinas de produção, e isso tudo se resume no newsmaking”. Foi aí que eu fui pesquisar mais sobre a teoria e ver que ela se aplica em diversas situações, tanto para o jornalismo digital (que agora tem esse negócio da convergência), jornalismo feito nas redações, nos veículos de comunicação, e até nas assessorias de imprensa. Resumindo, é uma área que se for esquadrinhando, você vai conseguir muitos resultados, e são várias linhas de pesquisa muito interessantes.
Eu me identifiquei bastante, porque o centro da notícia é o newsmaking: como a produção da notícia vai transformar o mundo ao seu redor. Nessa pesquisa que publiquei na Anagrama, no caso ali foi a cultura do jornalista, e como essa dinâmica muda. Eu estou no começo ainda, mas eu quero seguir esse caminho. Já estou com algumas ideias para a monografia, futuramente mestrado e, quem sabe, doutorado também. Em nossas pesquisas a gente já fica vislumbrando o futuro.
2. Em sua publicação mais recente na Revista Anagrama, você discute algumas perspectivas sobre o newsmaking, apontando algumas questões sobre a integração dos jornalistas na rotina de construção da notícia. Entre os pontos, você reflete como a dimensão subjetiva não está descolada dos critérios objetivos da rotina de seleção e desenvolvimento da notícia. Como você percebe essa questão hoje, considerando que o jornalismo, até mesmo o mais comercial, vem sofrendo ataques em nome da “falta de neutralidade” por parte dos jornalistas e redações?
Partindo desse ponto, você percebe que isso é senso comum. Não precisa nem ser pesquisador, mas um jornalista ou estudante de jornalismo, quando ele está aprendendo, fazendo suas apurações, escrevendo e produzindo, é claro que a imparcialidade a neutralidade não tem como. Até nas primeiras etapas, em que você está nas fases iniciais da notícia e na composição desse conteúdo jornalístico, pode ser veiculado o que for, não tem isso de imparcialidade. O que acontece: em algumas redações e alguns veículos, essas questões ideológicas têm as suas agendas, como sobre não poder se posicionar sobre tal coisa. Se você pegar um jornal e ler – e nem precisa fazer uma pesquisa –, você vê nas entrelinhas que o jornalista consegue deixar alguns elementos na narrativa.
Em relação a esses ataques, infelizmente algumas pessoas que tem esse lado de que “o jornalismo vai destruir o mundo”, essas influências negativas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que algumas dessas ideologias conseguem distorcer uma coisa. Um jornalista não é um robô, e nenhum produto jornalístico é negócio frio e sem nada, tudo aquilo tem um sentido, um significado. Mesmo que o jornalista não se posicione claramente, não significa que ele está sendo imparcial, porque imparcialidade não existe, não existe neutralidade. Essa ideologia de que o jornalista está sendo esquerdista e é comunista, todo isso não tem muito embasamento. O que o jornalista faz, e que foi comprovado em outras pesquisas, é ter esse equilíbrio, um objetivismo e o subjetivismo. Agora puramente objetivo é uma fórmula matemática, e isso aqui não é exatas, isso é ciências humanas, ciências sociais aplicadas. O jornalista é um curador do mundo dele, do seu redor e das informações. O subjetivismo excessivo também acho que é prejudicial, porque estraga até a qualidade da notícia, dependendo da agenda do veículo. Questões de neutralidade e imparcialidade, isso tudo, para sintetizar a discussão, são choques ideológicos, o que não se aplica ao jornalismo. O que se aplica ao jornalismo é a notícia em si.
Um jornalista não é um robô, e nenhum produto jornalístico é negócio frio e sem nada, tudo aquilo tem um sentido, um significado. Mesmo que o jornalista não se posicione claramente, não significa que ele está sendo imparcial, porque imparcialidade não existe, não existe neutralidade.
E acaba que essa ideia de buscar uma neutralidade às vezes tira até mesmo a humanidade de quem produz, porque são pessoas perpassadas por questões, e isso acaba saindo ali…
Exatamente! Como falei, esse público que tem a visão de que o jornalismo tem de ser imparcial ou neutro imagina que o jornalista é um robô. Você está ali, tendo o contato com diversos acontecimentos (que vão gerar a notícia), e o jornalista vai ter a sua interpretação daquilo. O jornalista vai filtrar aquilo pra ele, e depois vem as outras etapas, como os critérios de seleção das notícias. Tudo isso tem um significado, então é impossível. Mesmo que você pegue um texto considerado mais “imparcial”, pode-se fazer uma pesquisa, como uma Análise de Conteúdo ou Análise Crítica do Discurso, e encontrar ali indícios de subjetivismo, mesmo que seja mínimo.
3. Diante das novas mídias e da orientação do jornalismo para os espaços digitais, o que você percebe de diferente na produção jornalística?
Aí é que entra a questão da convergência. Tem até um livro do Henry Jenkins, “A cultura da convergência”, em que ele fala bastante sobre isso, até mesmo sobre cinema e filmes. O newsmaking envolvendo o jornalismo digital passa por adaptações, mas o que muda ali é o sentido. O jornalismo digital já tem alguns conceitos pré-definidos, como hiperlink, hipertextualidade, e também muito da plataforma em que ele está, como Facebook ou outras redes que vão além disso. Agora, o papel do jornalista se transforma, o jornalismo vira um tipo de produto midiático porque está sofrendo uma certa adaptação. E, querendo ou não, esse é o futuro e vai ser assim, aos poucos. Por exemplo, isso se reflete nas crises das redações do jornalismo impresso. Aqui, o Diário de Pernambuco está em uma situação complicada, como atraso de salário e demissões em massa (o “passaralho”).
Então, o newsmaking vai se adaptando a essas novas plataformas em que ele está inserido. Na internet é diferente, até porque o público está tendo mais protagonismo do que o próprio jornalista. Além da plataforma mudar, o público está ali, vai modificar a própria lógica da rotina de produção.
Você acha que os jornalistas, principalmente aqueles que estão começando, já entram com uma maior pressão por conta dessas mudanças que estamos vivendo?
Com certeza, entram sim. Isso inclusive mexe muito até com o mercado de trabalho. As vagas, além de serem poucas, nas redações e televisões o jornalismo segue outros caminhos, como social media e marketing digital. Se você for ver os requisitos [das vagas], temos lá publicidade e até Letras. Vemos muito disso. Pressão sempre existiu, só que agora piora, aumenta ainda mais a pressão. O marketing de conteúdo é agora o novo nome da produção da notícia.
4. Pelo que pudemos observar, você desenvolve agora uma pesquisa sobre a produção jornalística em organizações públicas, como a Receita Federal. Quais são seus principais questionamentos e resultados dessa investigação?
Essa foi uma pesquisa bem longa até, durou seis meses, e foi algo por acaso. Quando eu consegui esse estágio, eu não entrei com a intenção de pesquisá-lo. Eu fiquei lá durante umas duas semanas e comecei a observar as coisas acontecendo e apurando um senso crítico. Então, eu fiquei pensando se não seria um problema metodológico eu aplicar a observação participante estando tão inserido aqui. E o meu questionamento era se, de fato, o newsmaking consegue se inserir numa área de produção de conteúdo com viés jornalístico. Pensei: “aqui é uma área de comunicação organizacional, e 95% do conteúdo era processo, atendimento, portal de acesso, aduaneiro, inspetoria, e outras coisas relacionadas à Receita Federal”. Essa comunicação interna é interessante porque, mesmo você estando inserido nessa área carregada de coisas que não tem nada diretamente a ver com jornalismo, além de ser pequena, estabelece uma rotina de produção. Então, o primeiro ponto era se isso se enquadra no newsmaking, por estar dentro de uma organização; e a segunda questão era se essa rotina de produção tem algum diferencial adaptativo se elas estão nesse tipo de organização.
Eu conversei com minha orientadora e ela me pediu para ler a metodologia da observação participante. Eu já conhecia, mas eu nunca tinha aplicado ou feito trabalho de campo. Mas, quando eu fui ler mais sobre a metodologia, me dei conta de que não estava atrapalhando o percurso metodológico, porque eu não era daquela comunidade. A observação participante tem uma pegada etnográfica, nos termos de uma pesquisa antropológica. Aquela comunidade que pesquisei se configura como servidores públicos, mas eu não sou um servidor público, eu sou um estagiário de comunicação. Porém, um detalhe: se eu estivesse lá durante uns três meses, acho que isso atrapalharia, porque não se pode estar ali no automático. Então, eu tendo essa percepção de estar aprendendo e observando para captar, sem também ter muita experiência, com meus conhecimentos jornalísticos da universidade, estava tudo ok.
Foi um trabalho muito longo, eu fazia anotações de campo toda semana. Todo o mês eu falava com a professora e descartávamos muita coisa. Como eu já mencionei, depois de passar um tempo, eu já estava um pouco cansado, mas sempre tentava resgatar aquele pesquisador. Além de tudo, eu tive apoio do pessoal, porque para você fazer uma observação participante é necessário comunicar aquelas pessoas. Não pode ser algo escondido porque fere os princípios éticos e científicos.
Quanto aos resultados, eu pude comprovar que o newsmaking consegue se manifestar mesmo em uma organização como essa. E outra coisa que comprovei é que não tem pesquisas falando sobre essa comunicação que acontece na Receita Federal. Eu pesquisei em todos os bancos de dados e não tem pesquisa falando disso. Além disso, deixo até no final do artigo incentivando as pessoas a pesquisarem não somente comunicação interna, mas também TV Receita e outros veículos para o público externo. Em relação à pesquisa, modéstia a parte, essa foi a primeira desenvolvida lá na Receita Federal, no jornalismo organizacional interno.
5. Nesta pesquisa, você menciona a observação participante como escolha metodológica para observar os processos e dinâmicas de produção no interior da organização. Quais foram suas experiências e o que elas acrescentam à sua formação e também ao campo do jornalismo?
Para minha formação, muito aprendizado. Em cada pesquisa você aprende bastante e essa não seria diferente, porque estamos ali procurando material e envolvido, fazendo parte daquele universo e interagindo com aquele objeto de estudo. Acho que isso agrega muito para minhas experiências, vai fortalecendo a minha confiança em produzir outros trabalhos, apresentar trabalhos em congressos e outras revistas científicas que abrem espaço para graduandos, que infelizmente são poucas.
As experiências que tenho são as melhores possíveis. Só vão agregar coisas boas para o meu aprendizado. Acho que isso é importante também para o mestrado e pós-graduação em geral, até se você quiser fazer um concurso para ser docente de universidade. Acho que isso é aprendizado, porque você vai transmitir isso e vai contribuir bastante, além de ter aquela segurança para falar uma coisa que você pesquisou durante tanto tempo. Por exemplo, se pedirem para eu falar da minha pesquisa, você fica aí e eu vou ficar falando contando os detalhes, tim tim por tim tim.
…
Fale com o Ytalo
E-mail: ytalo.silva502010@gmail.com